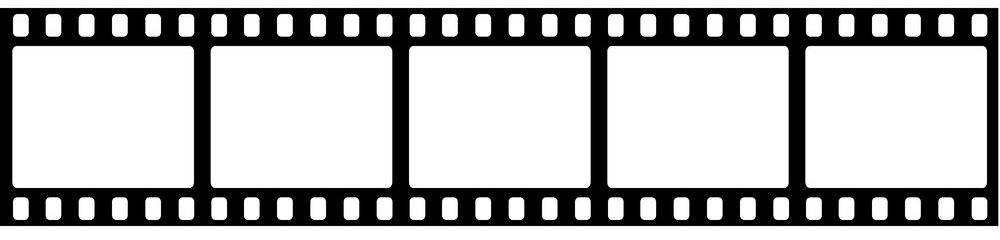Reprodução: IMDb
nota: A+
CRÍTICA: ★★★★ PÚBLICO: ★★★½
- Título original: Way down east
- Direção: D.W. Griffith
- Roteiro: Jos. R. Grismer, Anthony Paul Kelly, Wm. A. Brady e D.W. Griffith, baseados na peça de Lottie Blair Parker
- Produção: D.W. Griffith
- Elenco: Lillian Gish, Richard Barthelmess, Mrs. David Landau, Lowell Sherman, Burr McIntosh, etc.
- Gênero: Drama, romance
- Duração: 145 min (2h25)
Obra-Prima
“É uma obra que mostra do que este diretor era capaz, já naquela época, mas desta vez sem nenhum blackface”
De todos os filmes de D.W. Griffith, “Horizonte sombrio” (1920) não é um dos que geralmente chamam muita atenção. Entre a grandiosidade de épicos históricos como “Intolerância” (1916) e “Órfãs da Tempestade” (1921), e entre as polêmicas de filmes como “O Nascimento de uma Nação” (1915) e “Lírio Partido” (1919), esta adaptação de uma peça melodramática do século XIX acaba parecendo um pouco pequena, até simplória, em comparação. Além disso, algumas das… excentricidades do cinema de Griffith — que partem da sua “cruzada moral” no cinema, que já citei aqui em outros textos — parecem ausentes neste filme, ou pelo menos aparecem de forma bastante reduzida, o que também contrasta com o resto de sua filmografia. E, pelo menos para mim, isso coloca o longa como um dos melhores da carreira do diretor, exatamente por ser uma espécie de ‘obra-prima discreta‘.
Isso porque o filme nos permite testemunhar as muitas qualidades que Griffith tinha como um cineasta, sem que isso seja atrapalhado pelas ideias estranhas que este diretor insistia em apresentar nos seus filmes — fosse na forma do seu racismo explícito, fosse na forma de preocupações muito específicas do seu tempo. Assim, o filme se torna muito mais palatável para uma audiência atual, ao mesmo tempo que deixa claro os avanços e qualidades que Griffith trouxe para o cinema do início do século XX. Por isso, penso que o filme tem sucesso em ser, na medida do possível, atemporal, sem por isso deixar de estar inserido em seu próprio contexto histórico. É uma obra que mostra do que este diretor era capaz, já naquela época, mas desta vez sem nenhum blackface.
O filme conta a história de Anna Moore (Gish), uma garota pobre e ingênua, que um dia sai da casa de sua mãe, no interior dos Estados Unidos, para tentar conseguir dinheiro na cidade grande. Uma vez lá, ela é rejeitada pelas suas primas ricas, mas acaba recebendo a ajuda de duas outras pessoas, com intenções muito diferentes. A primeira é uma de suas tias, que, durante uma festa, consegue arranjar um vestido novo para a menina — mais para incomodar as outras parentas, do que por simpatia pela jovem. Durante essa festa, Anna também conhece Lennox Sanderson (Sherman), um homem que se interessa por ela, e parece também querer ajudá-la. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade: tendo a conhecido e ganhado sua simpatia, Lennox convence Anna a se casar com ele, numa cerimônia secreta e ilegítima, antes de engravidá-la, revelar que foi tudo uma farsa, e abandoná-la à própria sorte.
Se isso não bastasse, a história se torna ainda mais trágica depois que o bebê nasce. Agora vivendo em um pensionato, Anna tem que cuidar da criança, que está muito doente, sem ter nenhum emprego, nem tempo para arrumar algo para se sustentar. Além disso, a dona do pensionato descobre que ela teve um filho sem ser casada, e fica decidida a expulsá-la de lá. Numa das cenas mais trágicas do longa, a criança acaba morrendo (e ainda estramos no primeiro terço de filme), e Anna é expulsa da hospedagem. Sem ter mais para onde ir, ela vagueia sem rumo até chegar à fazenda de Squire Bartlett (B. McIntosh), onde ela consegue um emprego. Lá, o filho de Barlett, chamado David (Barthelmess), se encanta por ela. Ela, porém, com medo de que ele descubra sobre o seu passado, rejeita o seu amor.
Tudo fica ainda mais complexo quando Lennox aparece novamente na vida de Anna. Mas, dessa vez, acidentalmente. Acontece que ele é amigo de longa data da família Bartlett, e está tentando cortejar Kate (M. Hay), a sobrinha de Squire. Ao ver aquela que foi a sua última vítima, e ex-falsa-esposa, na casa de sua próxima presa, Lennox tenta fazê-la ir embora, mas ela se recusa, prometendo não contar nada sobre o passado dos dois.
Uma das grandes qualidades do filme é, mais uma vez, a excelente atuação de Lilian Gish. Ela consegue passar a emotividade necessária para essa personagem, durante as várias tragédias que ela testemunha, e encarna toda a vulnerabilidade dessa garota, frente à uma sociedade intransigente e conservadora. A cena em que ela batiza a sua criança, já morta, pois o pobre não pôde nem passar pelo sacramento, por não possuir um pai, é uma das cenas mais tristes e perturbadoras que já vi em um filme mudo. E a emoção que as expressões de Gish conseguem passar nesse momento é algo absolutamente devastador. Além disso, neste filme ela consegue ficar ainda mais em evidência, e tem mais espaço para brilhar, do que em “Lírio Partido” ou “O Nascimento de uma Nação”, em que, a despeito da qualidade de suas atuações, teve que dividir o holofote com outros atores — incluindo algumas representações altamente questionáveis.
O filme também se destaca pela sua montagem, e como ele mostra, novamente, a habilidade de Griffith, e de seus montadores James e Rose Smith, em criar sequências incríveis de ação, numa época em que essas cenas eram ainda bastante incomuns. Além do mais, o filme também conta com stunts impressionantes para a época, sem usar dublê algum. Sem dar muitos spoilers, o clímax do filme se dá numa cena tensa envolvendo calotas de gelo, que descem na correnteza de um rio, que termina numa cachoeira. Essa cena desenvolve a ação paralela de várias personagens, uma das várias inovações que Griffith introduziu em “Nascimento de uma Nação”, mas dessa vez usa dessa novidade, além de uma edição dinâmica e de uma coreografia surpreendente, para dar conclusão à história de uma moça que sofreu com várias intolerâncias, em vez de, por exemplo, usá-la para exaltar a perseguição exercida por um grupo de ódio.
E isso é importante, de novo, porque penso que um dos maiores méritos desse filme, para além das suas qualidades próprias, é o fato de que ele compartilha muitas das mesmas qualidades com os outros filmes desse diretor, mas sem a maior parte das suas excentricidades, o que torna “Horizonte Sombrio” uma obra muito mais aprazível, para uma audiência atual, que a maior parte da sua filmografia. Esses dois exemplos que citei são apenas dois aspectos dos mais perceptivos, que esta obra compartilha com aquelas outras, e que justamente mostram esse ponto: D.W. Griffith era um diretor de mão cheia, e Lilian Gish uma baita atriz, ambos com muito para oferecer para a arte cinematográfica. Mas hoje em dia isso acaba ofuscado pela dificuldade que, com razão, se tem de se separar essas qualidades das suas obras, quase sempre repletas de percepções tão estranhas a nossa atual visão de mundo.
Acho, portanto, incrível como este filme consegue, além de perpassar tudo isso, não tendo quase nenhum dos preconceitos e noções estranhas de Griffith, também ser, por si só, um excelente filme, que conta uma história trágica e emocionante, com uma atuação memorável de Gish, e com uma montagem e cenas de ação impressionantes para a sua época. Enfim, um grande filme, independente do seu contexto — mas ainda melhor, dado o contexto.
Como o filme está em domínio público, é possível vê-lo gratuitamente on-line.
Este texto faz parte de uma série que tenta cobrir todos os filmes indicados no livro “1001 filmes para ver antes de morrer“. Para mais textos dessa série, clique aqui.