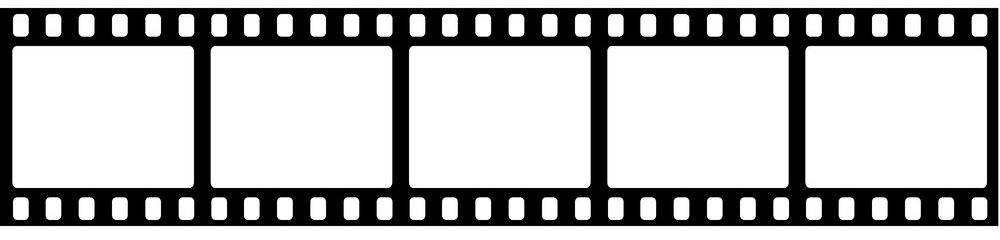Reprodução: IMDb
Em 1915, o diretor americano David Wark Griffith dirigiu “O Nascimento de uma nação“, um filme revolucionário que iria mudar para sempre a história do cinema. Foi um filme que estabeleceu a base para todos os longas-metragens que vieram depois, e a partir da qual toda uma linguagem cinematográfica iria se desenvolver, inspirando, basicamente, todo o cinema como o conhecemos.
Só acontece que esse filme, além disso, era extremamente racista.
Tendo como pano de fundo a Guerra Civil Americana, a história conta de duas famílias amigas: os Stoneman e os Cameron. Cada uma delas pertence a um dos lados do conflito, com a família Stoneman sendo do norte, e a Cameron do sul dos Estados Unidos. Durante a primeira parte do longa, acompanhamos a vida e a relação dessas duas famílias antes e durante a guerra. Primeiro o filme mostra a amizade entre elas, principalmente entre os mais jovens, para depois mostrar, no segundo ato, como elas são colocadas uma contra a outra no campo de batalha. Os mais jovens, agora soldados, se veem tendo de matar aqueles que eram seus antigos amigos, um símbolo para a desunião que assolava o país.
Já uma terceira parte do filme, separada do resto por um merecido intervalo, mostra as consequências da guerra, especialmente para o sul, o lado derrotado. Benjamin Cameron, o filho mais velho, volta para sua casa na Carolina do Sul e descobre um ambiente muito diferente daquele que ele havia deixado. Não só sua família havia vendido muitas de suas posses para ajudar com o esforço de guerra, e a miséria agora reinava, mas também (pasmem) os escravos haviam sido libertos, e os negros tinham ganhado direitos políticos e sociais que nunca tiveram, incluindo o direito a voto, e de se casarem com pessoas brancas. Toda essa nova realidade inspira Ben a criar uma nova organização: a Ku Klux Klan, que iria colocar os negros de “volta no seu lugar”, e restabelecer o “direito de nascença ariano” à supremacia, que agora se perdia (sim, essas são citações reais do filme).
Acontece que “O Nascimento de uma Nação” trouxe, para o cinema, uma leva de inovações artísticas e técnicas que influenciaram a maneira como os filmes eram feitos. Nas quatro “fases” dos primórdios do cinema, que citei no texto sobre “O Grande Roubo do Trem” (dir. Edwin S. Porter, 1903), esta obra se situa facilmente na quarta fase, contemplando muitos elementos que afastavam a sétima arte daquela estética que copiava o teatro, e a aproximava mais de algo que chamaríamos de uma estética “cinematográfica”. Isso incluía cenas de batalha gigantescas, com centenas de figurantes mostrados em um plano aberto; incluía vários posicionamentos de câmera para uma única cena; incluía uma edição com cortes rápidos em cenas de ação; incluía uma trilha sonora produzida exclusivamente para acompanhar o filme; etc. etc. etc..
Mas também acontece que todas essas inovações foram usadas para contar uma história que tem como heróis um grupo de ódio. Uma história que foi baseada no romance “The Clansman“, escrito por Thomas Dixon Jr., um autor às vezes referido como um “racista profissional”. Uma história que vê os negros americanos (interpretados por pessoas brancas usando blackface) como preguiçosos, glutões e predadores sexuais, tendo como vítimas prediletas as mulheres brancas. Uma história repugnante que vê os políticos abolicionistas como pessoas com segundas intenções, e que queriam alterar a “ordem correta” das coisas. Finalmente, é uma história que vê a sua própria mensagem de ódio e segregação como uma lição de virtude e retidão moral. E isso independe de qualquer técnica inovadora que o filme possa ter.

Reprodução: IMDb
Porém, como em “O Grande Roubo do Trem”, muitos dos méritos deste filme não vêm tanto dele ter sido aquele a criar novas técnicas, nem da sua inovação ou originalidade, mas sim de ter sido aquele filme que reuniu vários dos recursos que já existiam, e já eram utilizados em sua época, e os popularizou de tal maneira a torná-los recursos padrão nos filmes lançados depois, ao mesmo tempo que tomava para si todo o crédito pela criação desses recursos. Isso, inclusive, é algo que Griffith parecia fazer conscientemente, afirmando em um anúncio em jornal ter inventado, por exemplo, o close-up e o cross-cutting, nenhum dos quais ele realmente inventou. Mas não é um exagero dizer que ele, principalmente com “O Nascimento de uma Nação”, ajudou e muito a popularizar várias dessas técnicas, que seriam replicadas em muitas obras posteriores.
E infelizmente, essa não foi a única popularização que o filme promoveu. Pois, além de ter grandes consequências para o cinema, a obra de D.W. Griffith também teve repercussões graves na vida real. Na época de seu lançamento, a Ku Klux Klan era uma organização dormente, moribunda, que não era mais atuante regularmente desde meados do século XIX. O filme revitalizou o grupo, levando ao aumento da violência racial em cada condado em que era exibido, levando inclusive a novos casos de morte de pessoas negras por linchamento. Isso fez com que muitos distritos proibissem a sua exibição, com medo de que escalassem as tensões raciais. Ao mesmo tempo, o filme continuou a ser usado como inspiração para os membros da K.K.K. até os anos 1960, sendo exibido em reuniões da nova organização, que também copiou a estética do longa para cometer seus crimes.
Tomando emprestado uma metáfora usada pelo canal do YouTube “Cinefix”, se os diretores dos primórdios do cinema fossem como homens da caverna inventando palavras como “jogar” ou “pedra”, e até as juntando em frases rudimentares como “eu joga pedra”, o avanço de D.W. Griffith para o cinema, em filmes como “O Nascimento de uma Nação”, foi como a invenção da gramática. Eu iria um pouco menos longe, e diria que ele meramente organizou uma sintaxe. Isto é, ele revelou uma forma de se arranjar os diferentes recursos e inovações inventados anteriormente, de uma maneira que fosse, ao mesmo tempo, coerente e compreensível. Ao organizar seus planos em cenas, e suas cenas em sequências maiores, Griffith essencialmente inaugurou uma nova forma de se fazer cinema, e um novo movimento “realista” surgiu como consequência.
Mas ao mesmo tempo que o cinema se tornava mais realista, a visão, ou melhor, a versão da História americana que era mostrada em tela não passava de fantasias e invenções de Griffith e Dixon. Supostamente uma ficção histórica, este longa faz tudo em seu alcance para falsificar a História dos Estados Unidos, colocando o sul escravagista como pobres coitados que, além de perderem a guerra, tiveram que aceitar as imposições “inaceitáveis” de igualdade racial vindas do norte abolicionista. Logo, a ascensão da Klan nada mais seria que uma reação ao controle dos estados sulistas por mestiços e “republicanos radicais”; e o reino de terror imposto pela K.K.K., que impedia os negros de exercerem seus direitos, é tratado como uma ação heroica daqueles que eram os verdadeiros oprimidos. Uma das cenas finais, em que pessoas negras são impedidas de votar pela cavalaria da Klan, que permanece de guarda na frente de suas casas, é especialmente marcante.

Reprodução: IMDb
No final das contas, este é um filme marcado por contradições, que ao mesmo tempo que exibe diferentes inovações de seu tempo, também tem orgulho de exibir os seus maiores atrasos, representando o pior que o Ser Humano tem a oferecer como uma virtude a ser celebrada. Esta é uma obra que, ao mesmo tempo, consegue ser revolucionária em vários sentidos, e ultrapassada das piores maneiras. É um filme que mudou o cinema como o conhecemos, mas também é um filme que glorifica a Ku Klux Klan, que falsifica a História americana, que usa blackface e outros estereótipos racistas, e que ainda ajudou a revitalizar a Klan no século XX, levando ao derramamento de sangue de inocentes, simplesmente pela sua cor de pele. E é triste que uma parte tão importante e consequente da história do cinema deva ser representada por um filme tão detestável, tão odioso, tão nojento, em uma palavra, tão racista.
Este texto faz parte de uma série que tenta cobrir todos os filmes indicados no livro “1001 filmes para ver antes de morrer“. Para mais textos dessa série, clique aqui.