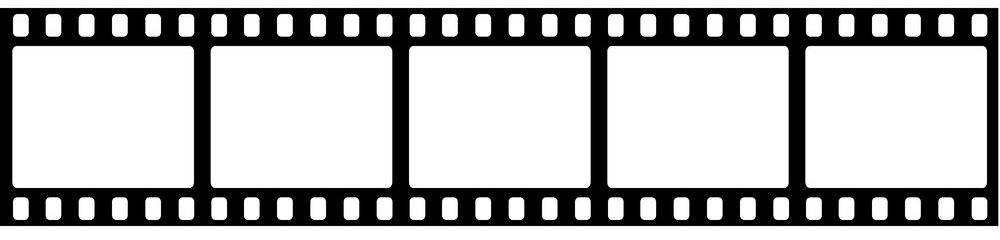Reprodução: IMDb
nota: B
- Direção: David G. Derrick Jr.
- Roteiro: Jared Bush e Dana Ledoux Miller (história por Jared Bush, Dana Ledoux Miller e Bek Smith)
- Produção: Christina Chen e Yvett Merino
- Elenco: Auli’i Cravalho, Dwayne Johnson, Alan Tudyk, Nicole Scherzinger, Temuera Morrison, Rachel House, Rose Matafeo, Khaleesi Lambert-Tsuda, Hualalai Chung, Awhimai Fraser, David Fane, Gerald Ramsey, etc.
- Gênero: Animação, aventura, comédia, família, fantasia, musical
- Duração: 100 min (1h40)
- Classificação: PG (MPA)
O.K.
“uma das críticas que tenho a esse roteiro é que tudo, desde as personagens até o clímax do filme, me pareceram mais promessas de um ‘mais por vir’, do que propriamente pessoas ou eventos que entreguem de verdade algo a mais para a narrativa — e para o público”
“Moana 2” (dir. David G. Derrick Jr., 2024) se passa alguns anos depois dos eventos do primeiro filme, lançado em 2016. Os habitantes da ilha de Motunui, depois de terem se isolado por várias gerações, impedindo que qualquer um se aventurasse fora dos limites do recife, finalmente voltam a seguir o caminho de seus ancestrais, e passam a desbravar os mares ao seu redor. Sob a liderança de Moana (Cravalho), agora uma experiente navegadora, eles realizam expedições de barco para fora da ilha, buscando entrar em contato com os outros povos do oceano.
Mas todas as ilhas que eles descobrem parecem estar desertas, sem um ser humano sequer a vista. Um dia, porém, Moana tem uma visão, e um de seus antepassados mostra a ela uma ilha mítica, chamada Montufetu, que um dia já conectou todos os povos do oceano, mas que foi amaldiçoada por um dos seus deuses. Sabendo apenas a direção em que está essa ilha, Moana junta um pequeno grupo de aventureiros e parte em busca de Montufetu, na esperança de que encontrá-la poderá reconectar Montunui às outras ilhas habitadas da região, acabando de vez com a maldição, e também com o isolamento do seu povo.
A maior qualidade deste filme, até mesmo sobre o seu antecessor, é a sua animação. Mais que isso, é todo o seu aspecto técnico. De novo e de novo, a Disney mostra que consegue se superar em criar mundos e cenários extraordinários, e este filme não é uma exceção nesse quesito. Do primeiro ao último minuto, este filme é visualmente espetacular, mais ainda do que o primeiro. As (várias) tomadas do mar, das ilhas, da vegetação, o próprio desenho e texturas das personagens em cena, tudo é feito com um primor visual que salta aos olhos. Igualmente destaco a mixagem de som, os efeitos sonoros, e, é claro, as músicas. Este filme pode até não ter músicas tão memoráveis quanto “How Far I’ll Go”, ou a cativante “You’re Welcome”, mas ainda assim as canções originais são sim muito, muito boas. Destaque vai para a nova canção solo de Moana, chamada “Beyond”.
Mas isso tudo é o óbvio, e já era o esperado de um filme da Disney. O que eu não esperava, infelizmente, é que o filme cometesse o mesmo erro de “Frozen II” (dir. Chris Buck e Jennifer Lee, 2019), dando mais atenção ao espetáculo visual, do que ao seu roteiro ou à sua história. Não me entendam mal, a história, a princípio, é boa, e a premissa parece uma continuação natural dos acontecimentos do primeiro filme, além de trazer uma grande oportunidade de se explorar mais esse mundo e as suas mitologias. Porém, esse potencial acaba não sendo muito bem explorado, e, com a exceção da própria Moana, as personagens igualmente não são exploradas de forma satisfatória.
Pode-se citar, por exemplo, o grupo que acompanha Moana na sua viagem. Esse grupo é composto por um jovem que é obcecado pelo Maui, uma engenheira hiperativa, que quer a todo momento reformar o barco que eles navegam, e um senhor camponês rabugento. E pode parecer que estou sendo reducionista, descrevendo essas personagens assim, mas o próprio filme não faz um bom trabalho em desenvolvê-las muito além disso. No máximo, eles chegam a cumprir certos papéis pontuais na história, e completam alguns pequenos arcos, como o senhor perdendo o seu medo de navegar, ou a moça fazendo um ajuste significativo no barco. Fora disso, não chegamos a saber quase nada sobre eles. E isso também se aplica a outras personagens secundárias, que são introduzidas brevemente no filme, para serem rapidamente descartadas, ou usadas para algumas poucas cenas mais importantes.
Em alguns momentos, principalmente no ato final, tive a impressão de que este é apenas um filme “de transição”: cuja única função parece ser preparar o terreno para um terceiro filme (praticamente confirmado pelo final e por uma cena pós-crédito). E isso é relevante, porque uma das críticas que tenho a esse roteiro é que tudo, desde as personagens até o clímax do filme, me pareceram mais promessas de um “mais por vir”, do que propriamente pessoas ou eventos que entreguem de verdade algo a mais para a narrativa — e para o público. O vilão é um bom exemplo disso. Não entrando muito em spoilers, o deus que amaldiçoou Montufetu é um vilão decepcionante, principalmente porque a participação dele no clímax parece curta demais (e sua resolução mais ainda). O resultado disso é que a “batalha final” mais parece um encontro inicial, uma mera introdução ao vilão, e não um último e determinante enfrentamento.
E isso se dá por uma razão simples: esse é realmente um encontro inicial. Se você quiser ver uma luta final de verdade, você terá de comprar um ingresso daqui a alguns anos, quando lançar o próximo filme. Ou seja, até naquilo que o filme entrega, essa entrega aparece disfarçada de uma promessa de “mais por vir”.
Me parece que os roteiristas tinham um “Moana 3” em mente, mas para que isso se concretizasse, eles tinham que introduzir certas personagens, estabelecer certas histórias, e criar todo um pano de fundo para que a história do 3 pudesse funcionar. E, nesse quesito específico, o filme cumpre o seu papel. O problema é que a história e as personagens deste filme aqui parecem ser prejudicadas no processo. O longa continua lindo, avassalador, tanto visual quanto sonoramente, e o arco da Moana (spoilers) se destaca como de longe o mais interessante de todo o filme. Mas, para mim, nada disso compensa a falta de outras personagens interessantes, seu vilão e clímax fracos, e principalmente o seu roteiro, que parece mais preocupado em prometer grandes coisas para o futuro, do que apresentar qualquer coisa no presente.